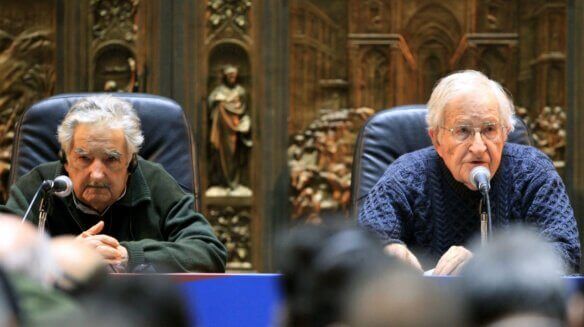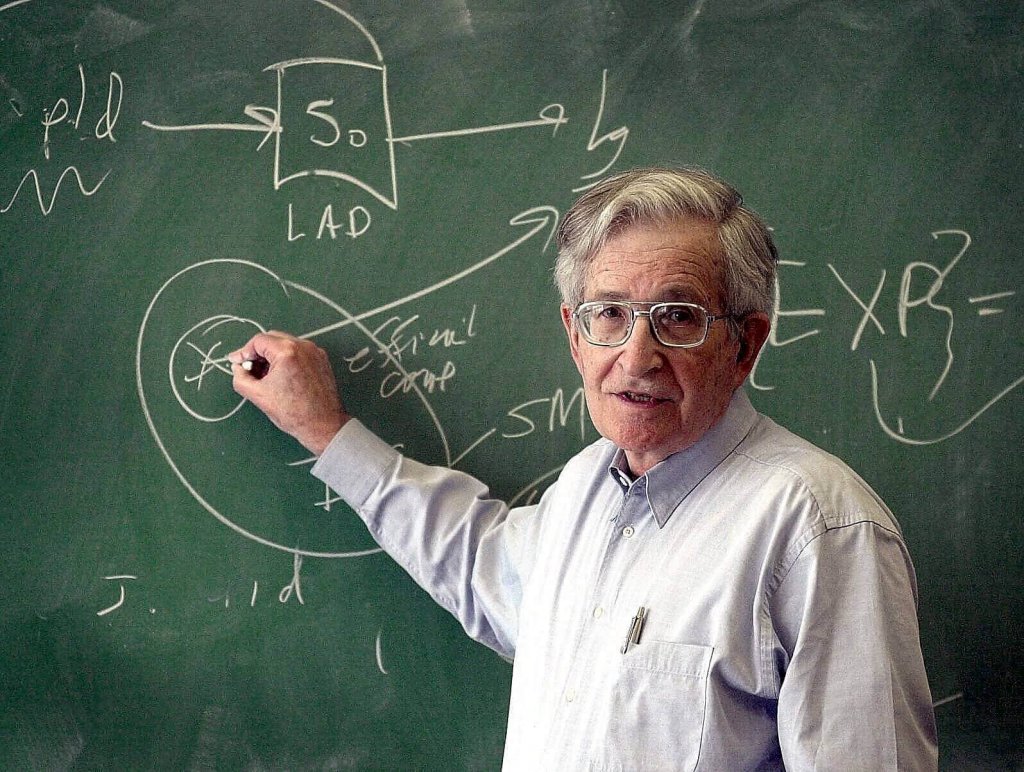Dentro da cabeça de Noam Chomsky
Estudioso
que revolucionou a lingüística com modelos matemáticos para explicar a
comunicação humana. Polemista afiado e ídolo da esquerda mundial.
Conheça suas idéias, sua obra e por que há tanta gente interessada no
que ele tem a dizer
access_time
31 out 2016, 18h49 - Publicado em 30 abr 2003, 22h00
Luís Augusto Fischer
Quando o naturalista inglês Charles Darwin observou os seres
vivos e entre eles percebeu nexos e continuidades, combi-nando as
idéias de evolução e de seleção natural, o mundo nunca mais foi o mesmo,
porque nossa compreensão acerca da vida mudou. Do lingüista e pensador
americano Avram Noam Chomsky se pode dizer o mesmo. Autor de mais de 70
livros traduzidos para mais de dez línguas, Chomsky também revolucionou
sua área científica, a exemplo de Darwin.
Chomsky mudou o objeto de estudo da lingüística. Como tinha
acontecido um século antes no domínio da natureza bruta, também na
ciência da linguagem pouca gente tinha ousado alguma teoria unificadora.
Chomsky o fez.
Lingüística é o estudo da linguagem, da gramática das
diferentes línguas e da história desses idiomas. Quando Chomsky apareceu
no cenário intelectual, esse ramo da ciência tinha vivido poucos
avanços significativos. Para falar a verdade, dois. O primeiro foi a
criação da tradição clássica, originada no mundo grego, que perdurou até
o final do século 19. O segundo salto foi o estruturalismo, criado pelo
suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913).
Na visão clássica, estudava-se uma língua só por meio dos
textos escritos. Os lingüistas rastreavam registros escritos, desde as
línguas antigas (latim, grego, aramaico) até alcançar o presente. Esse
tipo de abordagem exigia estudiosos que dominassem várias línguas,
fazendo descrições de cada caso. Havia pouca capacidade de
generalização, ou seja, de transpor o conhecimento acumulado sobre uma
língua para outra língua. Era uma abordagem enciclopédica, que
considerava os registros escritos como o ponto alto de um idioma.
No começo do século 20, era essa visão normativa, com
separação clara do que era certo e o que era errado, que dominava o
estudo da língua. Quer dizer: o que importava não era saber como
funcionava a linguagem, e sim estabelecer e perpetuar as formas tidas
como corretas, socialmente prestigiadas. O exemplo brasileiro mais
saliente dessa visão é o de Ruy Barbosa, o jurista e político cujos
textos, até a metade do século passado, foram tidos como um exemplo de
português culto. Essa visão também influenciava o ensino. Na escola,
estudava-se a origem da língua (seus pais ou avós provavelmente tiveram
aulas de latim) e as mudanças que ocorreram na língua-mãe, até chegar à
língua moderna culta. Parecia impossível ensinar o idioma de outro modo.
Saussure inovou, comparando o aprendizado de uma língua a um
jogo de xadrez. Numa partida em curso, qualquer pessoa pode tomar o
lugar de um dos jogadores, porque as regras do jogo são poucas e bem
conhecidas. Por isso, não importa muito saber como o cavalo foi parar
ali, ou como a torre foi perdida. O que vale é saber que, dada a
situação das peças e conhecidas as regras, a partida pode seguir, agora
manejada por alguém que chegou depois do início. Assim é o aprendizado
da língua, disse ele: ninguém tem que obrigatoriamente saber a história
da língua para falá-la e escrevê-la aqui e agora.
Foi um golpe certeiro. O estruturalismo, como ficou
conhecida essa modalidade de estudo da língua, foi tão bem recebido que
se expandiu para outras áreas (a antropologia, por exemplo). Para os
adeptos dessa visão, estudar uma língua é realçar as estruturas que a
compõem e descrevê-las, sem ligar para a história que a trouxe do mundo
primitivo até o presente. Estava aberto o caminho para uma abordagem
científica da linguagem, porque não se tratava mais de caçar o certo e o
errado, mas de tomar a língua como um objeto. Com isso, caía por terra a
suposta superioridade de uma língua sobre outra.
Tal mudança tinha motivações concretas. Uma delas era o
contato cada vez mais freqüente com línguas não oriundas nem do latim
nem do grego. Com sua postura etnocêntrica e escritocêntrica, um
lingüista clássico, defrontado com uma língua indígena puramente oral,
sem registro escrito, nada podia fazer. O idioma morreria com o último
falante nativo. (Anos depois, Chomsky disse que com a perda de uma
língua se perde uma pista, talvez irrecuperável, para a solução do
mistério da linguagem humana.) Mas, se ele quisesse conhecer o modo de
ser daquela cultura, seria preciso outra atitude: gravar as falas dos
índios, anotá-las e depois descrevê-las no maior detalhe possível.
O estruturalismo permitia essa revolucionária abordagem: não
há aquela visão normativa, de certo e errado, nem necessidade de
recorrer à história para entender o presente. A ênfase recai sobre a
base empírica, sobre os dados de linguagem verificáveis. Pela primeira
vez, a língua ganha estatuto científico, com autonomia em relação à
moral, à cultura, aos bons costumes.
Como se faz um lingüista
A formação acadêmica de Chomsky é curiosa. Filho de
professor de hebraico, ele dispunha de um conhecimento familiar da
matéria, manejando o inglês e o hebraico com intimidade. Avram Noam
nasceu em 7 de dezembro de 1928, em Filadélfia, Pensilvânia. Seu pai era
William (originalmente, Zev) Chomsky, judeu russo que emigrou para a
América em 1913, para não ser obrigado a servir no Exército. Sua mãe se
chamava Elsie Simonofsky. Os dois tinham profundas relações com a
tradição judaica, e William logo se tornou especialista na gramática do
hebraico.
Noam passou por experiência escolar marcante. Dos 2 aos 12
anos, freqüentou um colégio inspirado nas idéias de John Dewey
(1859-1952), filósofo americano que pregava um ensino livre de
avaliações formais, a favor da criatividade, com desafios à inteligência
e nenhuma caretice. Nesse clima, Noam escreve seu primeiro artigo, para
o jornal da escola, sobre a queda de Barcelona, foco de resistência dos
anarquistas, durante a Guerra Civil espanhola. Tinha 10 anos.
Tão positiva foi essa experiência de aprendizado libertário,
que a passagem para uma escola tradicional, na adolescência, foi um
choque. Lá ele aprenderia os horrores da avaliação emburrecedora e da
doutrinação ideológica, que ele passou a combater de corpo e alma. Anos
depois, em carta a seu biógrafo, ele comentava a consciência que começou
a desenvolver ao descobrir-se torcedor do time de futebol da escola.
“Por que eu estou torcendo por esse time? Eu não conheço essa gente, e
eles não me conhecem. Então, por que eu torço? Bem, é o tipo da coisa
que você é treinado para fazer. É uma coisa incutida em você. É uma
coisa que leva ao ufanismo e à subordinação mental.” Mas seu pensamento
libertário o isolava. No dia em que seu país bombardeava Hiroshima e
Nagasaki, Chomsky estava em férias numa colônia da escola. Ele disse que
se sentiu horrorizado, enquanto seus colegas comemoravam.
Bom leitor desde a infância, Chomsky teve uma formação
particular. Aos 13 começou a freqüentar Nova York, onde tinha parentes,
entre eles um tio, dono de banca de revistas, que funcionava como centro
cultural informal. Era um sujeito de formação fraca, mas inteligente.
Levado por parentes, freqüentou círculos anarquistas, tudo imerso no
mundo cultural dos imigrantes judeus recém-vindos da Europa, gente com
ótima formação cultural, embora ali trabalhassem em ofícios manuais.
Isso explica, em parte, por que Chomsky nunca foi marxista,
muito menos leninista: ele sabia que havia brutalidade também do lado
soviético. Desenvolveu ainda um senso agudo de leitor: para ele,
pensadores marxistas como o húngaro Georg Lukács (1885-1971) não lhe
soavam profundos, mas confusos. E a clareza e a simplicidade lhe parecem
marcas essenciais das grandes idéias. Daí sua admiração por Dwight
MacDonald, o ficcionista inglês George Orwell (1903-1950), e Bertrand
Russell (1872-1970). Aliás, um dos raros elementos decorativos presentes
na sala de Chomsky no Massachusetts Institute of Technology (MIT), o
prestigiado instituto americano onde ele hoje leciona, é um pôster de
Russell, admirado como filósofo, aliado das classes populares e crítico
do papel da elite na reprodução ideológica de seu poder.
Por essa altura, ele passou a apoiar o sionismo, o movimento
religioso e político, originado no século 19, que pregava o
restabelecimento, na Palestina, de um Estado judaico. Mas é preciso ver
que na época, antes da fundação do Estado de Israel, em 1948, ser
sionista era ser de esquerda. Os sionistas de então acreditavam que o
novo país seria uma sociedade solidária, com matizes socialistas que se
configuraram nos kibutzim, colônias de produção coletiva e cooperação
entre os palestinos e os judeus. Alguns anos mais tarde, quando começou a
namorar sua futura esposa, Carol Schatz, enfrentou uma escolha difícil:
seguir a carreira acadêmica ou migrar para Israel? Mas a maior
aproximação com Israel foram algumas semanas passadas em um kibutz, em
1953.
Anos depois, sua posição sobre Israel foi tomada como
anti-sionista. Mas foi a palavra que mudou de sentido. A partir da
ocupação de territórios palestinos e árabes por Israel, ser sionista
passou a significar apoio à política expansionista e antiárabe do Estado
de Israel.
Na universidade, caminhou entre a filosofia e a lingüística,
sem nunca perder de vista o debate e a prática da esquerda libertária
não-comunista. Aprendeu árabe. Em 1947, quando estava decidindo sua
especialidade, encontrou Zellig Harris, lingüista e pensador judeu
americano que foi para ele um parâmetro moral, político e científico.
Harris, também sionista, era estruturalista, e Chomsky aprendeu muito
com ele. O suficiente para superá-lo.
Descobertas renovadas
Sua entrada para o MIT ocorreu em 1955. Universidade
tecnológica com pouca tradição em humanidades e, por isso mesmo, livre
da burocracia e da ciumeira tradicionais nas ciências humanas, o
instituto não se importou com o fato de Chomsky ter uma formação híbrida
de matemática, psicologia, filosofia e lingüística. Ele vai trabalhar
numa atividade de que discordava, o desenvolvimento de uma máquina de
tradução, para decodificar comunicações cifradas, na Guerra Fria.
A pesquisa tinha patrocínio de nada menos que o Exército, a
Marinha e a Aeronáutica americanas, mais a Nasa, a agência espacial.
Para um esquerdista, era uma saia justa ideológica, que ele desvestiu
com elegância: ao publicar o hoje clássico Aspectos da Teoria da
Sintaxe, em 1957, o primeiro produzido no MIT, ele cita seus
financiadores e declara que é permitida a reprodução daquele trabalho
para “qualquer finalidade do governo dos Estados Unidos”.
A relação de Chomsky com governos nunca foi tranqüila. Ele
rejeita sistematicamente convites oficiais, mesmo vindos de governos de
esquerda. Ao Brasil, ele veio este ano, quando o Fórum Social Mundial o
convidou – mas aí eram organizações não-governamentais.
No MIT, Chomsky desenvolveu uma crítica ao estruturalismo.
Essa corrente concebia a linguagem como algo que se aprendia por
imitação. Era uma teoria behaviorista, baseada na crença de que, em
última instância, o ser humano não tem nada de inato, tudo é aprendido
por adestramento. O maior formulador dessa teoria foi o psicólogo
americano B.F. Skinner (1904-1990), famoso pela descrição de mecanismos
de controle das ações humanas por estímulo e resposta.
Chomsky tem coceiras na alma quando ouve falar de
adestramento, dada sua crença na criatividade humana. Em sua concepção, a
linguagem é uma capacidade humana natural, inscrita no DNA. É a tese
que defende em vários artigos e livros hoje clássicos, como Lingüística
Cartesiana, em que toma o mote do racionalista francês René Descartes
(1595-1650) sobre tal questão. Dizia Descartes: se uma criança for
criada entre lobos, ela não desenvolverá a linguagem. Mas, se voltar ao
convívio humano, tudo volta ao que deveria ser, e ela aprende a falar.
Já um macaco, mesmo que seja criado apenas entre humanos, jamais
desenvolverá a linguagem, que nele não é inata.
Pode parecer pouco, mas essa posição é revolucionária, ainda
que recupere pensadores racionalistas e iluministas. Ao criticar
Skinner, Chomsky estava não apenas discutindo lingüística, mas atacando a
convergência entre o ponto de vista científico e o desejo de domínio
das classes dominantes sobre as pessoas. Mais ainda, Chomsky estava
mudando radicalmente a localização do objeto de estudo da lingüística:
enquanto para os estruturalistas a língua era algo externo ao homem,
para ele o foco era a capacidade inata da linguagem, porque ali, dentro
de todos e de cada um, está um tesouro, que é preciso estudar. (Essa
capacidade que faz você, leitor, entender esta frase que está lendo
agora, frase que nunca tinha lido antes mas que faz sentido – esta
capacidade é o objeto da lingüística chomskyana.)
Chomsky também diverge do empirismo dos estruturalistas.
Para eles, a tarefa do lingüista consiste em descrever as línguas tal
como se apresentam, na fala das pessoas ou nos textos. Para Chomsky,
esse caminho positivista é um beco sem saída, ou melhor, um caminho sem
fim: cada época, cada região e mesmo cada indivíduo sempre modificam um
pouco a língua, de maneira que o trabalho seria uma catalogação
infinita. Começou a falar alto a parte matemática de sua formação.
Chomsky postulou que se pode descrever algebricamente as
línguas – ou melhor, a língua humana –, a partir de esquemas abstratos e
não de dados colhidos em cada situação. Saiu da visão indutiva e passou
à dedução: em vez de procurar as particularidades de cada língua, ele
cogitou que, sendo manifestações de uma condição inata, as línguas devem
guardar características universais, marcas de sua origem comum no
cérebro humano.
Para descrever o processo cerebral que dava origem às
frases, Chomsky postulou a tese de que a linguagem humana ocorre em dois
níveis: uma estrutura profunda, na qual o raciocínio ocorreria sem o
uso de palavras (mais propriamente, essa estrutura corresponderia ao que
hoje concebemos como um software), e uma estrutura superficial, que são
as frases que dizemos, pensamos e escrevemos. Entre os dois níveis
haveria um conjunto de transformações, que o lingüista deveria
descrever.
Um exemplo clássico. Tome duas frases: “João comprou o
caderno” e “O caderno foi comprado por João”. Para um estruturalista,
que só trabalha com a língua manifestada, observável diretamente, elas
são muito diferentes. Já para Chomsky as duas frases seriam, apesar das
diferenças óbvias, muito próximas, porque dizem a mesma coisa, descrevem
a mesma ação, mudando a ênfase – a primeira começa a frase pelo agente
da ação, enquanto a segunda inicia com o objeto (as formas ativa e
passiva). Ou seja: na estrutura profunda, as duas frases seriam uma só.
As transformações entre um estágio e outro é que seriam objeto do
lingüista.
Vêm daí as nomenclaturas originais de sua teoria: ele queria
descrever uma gramática (no sentido de conjunto de regras de
funcionamento da língua) que fosse gerativa (capaz de gerar, no sentido
matemático, todas as frases possíveis a partir de um conjunto limitado
de regras e elementos) e transformacional (que descrevesse as regras de
transformação entre as duas estruturas).
Militância política
A política sempre esteve presente na vida de Chomsky. Desde o
jornal da escola, depois na vivência nas ruas da Nova York da Segunda
Guerra, no debate sionista, na aproximação com grupos anarquistas. Sua
atuação hoje é desdobramento da velha militância, marcada pelo
anarquismo, pela perspectiva libertária, pelo racionalismo iluminista.
Na primeira contribuição relevante à prestigiosa revista The
New York Review of Books, em 1967, ele escreveu um longo artigo, A
Responsabilidade dos Intelectuais. Nele, Chomsky lembra que, 20 anos
antes, lera um texto decisivo em sua formação, de Dwight MacDonald
(1906-1982), jornalista de esquerda que formulava perguntas como: “Até
que ponto os britânicos e americanos somos responsáveis pelos
aterrorizantes bombardeios sobre civis, executados como uma simples
técnica por nossas democracias ocidentais culminando em Hiroshima e
Nagasaki, certamente um dos mais indizíveis crimes da história?”
Foi com essa inspiração que Chomsky construiu o que, para
ele, era a tarefa central dos intelectuais: “Os intelectuais têm
condições de denunciar as mentiras dos governos e de analisar suas
ações, suas causas e suas intenções escondidas. É responsabilidade dos
intelectuais dizer a verdade e denunciar as mentiras”. Era o ano de
1967, e os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã.
Politicamente, Chomsky se define como anarquista. Mas ele
tem uma visão própria do termo. Para ele, anarquismo é a convicção de
que a obrigação de se explicar é sempre da autoridade, e que esta deve
ser destituída caso não consiga fazê-lo. Trata-se de posição não
ortodoxa, não partidária e certamente anticomunista, mas pela esquerda.
Para ele, capitalismo é um mercantilismo corporativo,
controlado por empresas ajustadas com governos, que sempre intervêm a
favor do capital, apesar da fantasia do livre mercado (inexistente, diz
ele, nos Estados Unidos e em toda parte), e que exercem controle sobre a
economia, a política, a sociedade e a cultura. Seu inimigo é o poder do
capital e do Estado. Para ele, os indivíduos é que devem ser a medida
das coisas.
Eremita solitário
A posição filosófica de Chomsky, em princípio, não tem
relação com sua atividade científica, voltada para a busca do caráter
universal da linguagem humana a partir de uma abordagem algébrica. Mesmo
a semântica não importa. Sua famosa frase “Colorless green ideas sleep
furiously” (“Idéias incolores verdes dormem furiosamente”, em português)
representa a tese de que qualquer falante reconhece frases mesmo que
sem sentido, o que seria uma prova da qualidade inata da linguagem. O
Chomsky militante tem interesse no mundo social, ao passo que o
cientista não quer saber dele diretamente. Só muito abstratamente, como
ele costuma dizer, os dois universos se encontram. Um desses pontos de
contato é o Iluminismo – a procura de universais, sejam eles
lingüísticos ou republicanos. Outro é a fé na razão, que pode ser a
razão filosófica ou a razão do bom senso. Ou o cosmopolitismo, tanto na
aceitação da validade de qualquer língua humana quando na compreensão do
valor de cada indivíduo.
Seus esforços em decifrar a linguagem humana são, por outro
lado, semelhantes aos que dispende na denúncia do que lhe parece errado.
Em 1967, ele escreveu: “A fraude e a distorção que cercam a invasão
americana no Vietnã estão, agora, tão domesticadas que perderam seu
poder de chocar. É portanto útil recordá-las, embora estejamos atingindo
novos níveis de cinismo a toda hora e os evidentes motivos desse horror
estejam sendo aceitos, com silenciosa cumplicidade, em nossos lares”.
Se trocarmos Vietnã por Iraque, temos aí o texto que Noam Chomsky pode
estar escrevendo neste exato momento.
Conferenciando para centenas de jovens na Austrália, metendo
o bedelho nas crises do Oriente Médio ou escrevendo um artigo de
lingüística, aí está Avram Noam Chomsky, temperamento eremita, que
preferiria ficar quieto em seu canto, mas vive militando pelo mundo,
denunciando o poder e espalhando solidariedade.
As frases que ilustram a reportagem foram extraídas de livros e entrevistas de Noam Chomsky. Colaborou Pedro de Moraes Garcez.
Para saber mais
PRINCIPAIS TRABALHOS NA ÁREA DA LINGÜÍSTICA
Aspectos da Teoria da Sintaxe, Armênio Amado, Portugal, 1995
O Conhecimento da Língua: Sua Natureza, Origem e Uso, Caminho, Portugal, 1994
O Programa Minimalista, Caminho, Portugal, 1999
ALGUNS TÍTULOS PUBLICADOS NO BRASIL DA ÁREA DA CRÍTICA CIAL E POLÍTICA
Novas e Velhas Ordens Mundiais, Scitta, São Paulo, 1996
Segredos, Mentiras e Democracia, Editora Universidade de Brasília, Brasília, 1997
O Que o Tio Sam Realmente Quer, Editora Universidade de Brasília, Brasília, 1999
A Minoria Próspera e a Multidão Inquieta, Editora da Universidade de Brasília, Brasília, 1997
O Lucro ou as Pessoas? Neoliberalismo e Ordem Global, Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2002
Banhos de Sangue, Noam Chomsky e Edward Herman, Difel, São Paulo, 1976
A Sociedade Global – Educação, Mercado e Democracia, Noam Chomsky e Heinz Dieterich, Editora da FURB, Blumenau, 1999
Propaganda e Consciência Popular, Noam Chomsky e David Barsamian, EDUSC, São Paulo, 2003
BRE CHOMSKY
O Instinto da Linguagem: Como a Mente Cria a Linguagem, Steven Pinker, Martins Fontes, São Paulo, 2002
Noam Chomsky: A Life of Dissent, Robert F. Barsky, MIT Press, Estados Unidos, 1997
Fonte: https://super.abril.com.br/cultura/dentro-da-cabeca-de-noam-chomsky/